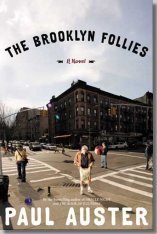O que Vasco Pulido Valente tem a dizer sobre o futebol? Mal, apesar de passar horas em frente ao aparelho a ver os jogos do Mundial. A ver o pré, o durante e o pós desafio, as nauseantes reportagens televisivas, as inacreditáveis entrevistas aos jogadores, técnicos, apanha-bolas, populares de garrafão de vinho tinto às costas, aos empregados de restauração e às camisolas dos jogadores, às mulheres e aos bifes que vão ser consumidos pela comitiva - "então, acha que o jogador que está prestes a ingeri-lo tem hipótese de jogar no Sábado?" "e depois da digestão feita, vai assistir ao jogo?".
Enfim, safam-se as bicadas em Marcelo - como comentador de futebol um cruzamento entre Gabriel Alves e o Horácio Caramelo que nos fala de Ontário, no Canadá - e fica a faltar a referência menos velada ao achado que foi convidar o Dr. Paulo Portas para escrever sobre futebol. Bem, se formos a ver bem as coisas, faz algum sentido o convite do... (nem sei bem em que pasquim Portas escreve). Coerente com a pose postiça de Portas na vida, um pouco como a falsa tartaruga de sopa de Lewis Carrol; falso jornalista de direita, falso liberal, depois falso conservador, falso líder de um partido católico, falso católico, falso político populista, falso ministro de Estado, cabelo falso, bronzeado falso, dentes falsos, falso membro do PP na reserva, falso comentador neutro de televisão. O último degrau na escada deve ser o que acede directamente ao comentário futebolístico, imagino. A um passo do elevador que desce a grande velocidade ao oitavo círculo do inferno, aquele que acolhe com prazer quem já só consegue viver da imagem na televisão ou no espelho, o político feito de vidro baço e vácuo, quase nada.
Ah, Dr. Vasco Pulido Valente, se não fosse o gozo que me dá ler as suas crónicas e os seus livros de História, escreveria um texto a dizer mal de si, juro que o faria. Mas respeito-o. Respeito.
[SL]