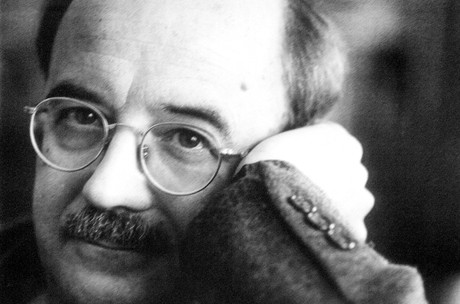Uma das coisas que me divertem – provavelmente porque gasto demasiado do meu tempo em desnecessárias inutilidades (e claro que há inutilidades necessárias, mas isso é outra vindima) – é espreitar os comentários dos espectadores no Cinecartaz do Público. Depois de ver os filmes, por princípio; que nunca uma opinião me faça alterar o fundamento dos meus preconceitos. Há umas semanas, fui ver um filme que declaro, desde já, ser fabuloso: O Tio Bonmee Que Se Lembra Das Suas Vidas Anteriores. Não vale a pena queixarmo-nos da extensão do título em português; em tailandês é ainda mais extenso e certamente mais impronunciável, quase tanto como o nome do realizador desta obra: Apichatpong Weerasethakul (fiz copy/paste do IMDB, para que se saiba). Certamente que todos se lembrarão que este filme ganhou a Palma de Ouro do ano passado e que esta decisão foi um incómodo para muita gente. Em concreto, recordo uma polémica nas páginas da Sight & Sound. Que o filme era demasiado hermético, lento, inacessível. Ora bem, o filme é seguramente hermético, lento, pouco acessível. Mas esta análise revela de forma mais decisiva os preconceitos e as limitações de quem a faz do que esclarece exactamente que objecto é este. A verdade, subjectivamente falando, é que o filme é uma experiência sensorial do outro mundo, uma viagem psicadélica entre tempos e espaços, uma provocação aos limites da verosimilhança extraordinariamente arrebatadora. Vivemos – nós, que apenas vemos imagens, sombras no ecrã – entre fantasmas, os fantasmas que visitam o tio Bonmee enquanto ele vai morrendo. E a morte, aqui, não é um abismo, não é um corte violento nem um nó dramático, à maneira do cinema ocidental. Não conheço o suficiente da cultura tailandesa para poder especular sobre a filosofia zen que motiva Apichatpong. Sei que a morte – e a vida, sobretudo a vida, a dolorosa preparação para a morte – não é o mesmo vulto negro do filme de Bergman, por exemplo; é um acidente, uma aceitação, uma desolação serena. Os espíritos da natureza, a irmã morta, o filho desaparecido em busca da alma que as fotografias roubam, o quotidiano pacífico de uma plantação, o ritmo das colheitas, o sol e as sombras da floresta. Um mundo afastado do mundo, do ritmo da cidade que é incrivelmente condensado naquela cena final em que uma família (que inclui um jovem monge budista que foge do silêncio do mosteiro) olha concentrada para um televisor num quarto de hotel, a realidade fora da realidade que acabámos de viver durante duas horas. Tudo desapareceu, com o desaparecimento de Bonmee, a derradeira viagem de regresso ao útero materno, a gruta inicial.
E depois leio (e agora cito de cor, porque já não encontro o comentário): “filme chato, fotografia péssima, o pior filme que já vi”. Ou algo que se pareça. A minha opinião vale tanto como a deste espectador, eu sei, e assim desculpa a minha ingénua presunção*. Onde está a diferença? Deveria perder o meu tempo em utilidades mais transitórias (há algum filme com carros em velocidade furiosa em cartaz?)
*Sobre a diferença entre opinião e crítica, coisa clara que muitos leitores de jornais parecem ainda não ter percebido, há muito escrito por essa net fora. O Luís Miguel Oliveira, por exemplo, tem vários textos sobre o assunto. Dizem tudo, e é admirável a pachora que ele muita vezes tem para explicar o que deveria ser evidente.
- Texto publicado no Arrastão -
- Texto publicado no Arrastão -