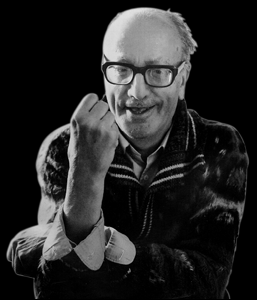Puta que os pariu!
O livro de que o Portugal de hoje precisava, a longamente esperada biografia de Luiz Pacheco, por João Pedro George.
Não serão assim tantos a recordar o escritor e editor e tudo. Viveu mais do que a maioria de nós, cada ano espremido e gozado até ao limite? Ou foi um proscrito por vontade própria, imune às tentações do bem estar burguês e da mediocridade de uma vida plana? Um miserável, um excêntrico hipocondríaco, um falhado que nunca chegou a cumprir o seu desígnio maior, a mais clara ambição, ser romancista? O pedinte, o sem abrigo - como a moralidade caridosa chama a quem decide viver, ou para isso é empurrado, na rua -, o pai de muitos de quem nunca soube cuidar, porque para ter uma "família" é preciso ceder ao impulso do conforto material, às regras sociais que ele tanto fazia por quebrar, o mau marido e péssimo gestor de vida (a linguagem tecnocrata dos nossos dias tem rótulos para estas coisas), o rapaz traumatizado por um pai distante e uma mãe galinha, crescido entre a riqueza relativa e o abandono; o funcionário público que trabalhava num organismo do Estado Novo ligado à censura, durante anos e anos batendo a continência a homens piores do que ele, até que o grito "Puta que os pariu!" teve de impor-se, e ele se tornou aquilo que talvez ambicionasse desde que abandonara a casa onde crescer: um libertino marginal, como tantas vezes lhe perguntaram nas entrevistas da última vintena de anos, dadas ou vendidas ao sensacionalismo suave de um jornalismo cultural que procurava avidamente o seu "louco", o que se expunha, o que dizia mal, o que se estava a borrifar para as meias tintas da sociedade portuguesa e do mesquinho meio cultural português. Um libertino marginal, repete-se a pergunta? Nunca, e o ziguezague de Pacheco ao longo dos tempos, entre a aceitação da categoria maldita e a recusa, prova que era tudo folclore, fogo-de-artifício, ignorância de quem o entrevistava.
Luiz Pacheco era tudo isto, claro, mas não era. Era quem queria ter sido, e passava fome e mendigava e vivia como muito bem entendia. A biografia de João Pedro George não pretende chegar a conclusões, apesar de um ou outro aparte sociológico que talvez fosse desnecessário. Mas é provável que eles apareçam por força da circunstância desta obra ter surgido a partir da escrita de uma tese de doutoramento em Sociologia - a depuração que certamente o trabalho académico sofreu na passagem para a edição comercial poderia ter ido mais longe. Mas isto é um pormenor. O livro de João Pedro George é exaustivo, bem escrito, obsessivo. E a admiração que o biógrafo poderia sentir pelo escritor parece a cada passo ser toldada pelo rigor da verdade - o que, neste caso, obriga a que pouco seja omitido. Caramba, uma biografia é uma biografia, terá de ter a ambição de contar tudo. Por isso, o fôlego deste trabalho é, e sem querer fugir ao lugar-comum nestas situações, uma pedrada no charco, uma agulha no palheiro, uma raridade absoluta. Nada a ver com as croniquetas de rainhas e princesas que agora se tornaram moda, escritas com os pés por gente que nem o significado da palavra iliteracia conhece. Um género nobre nos países anglo-saxónicos de que seria bom haver réplicas no nosso pobre meio editorial.
Quem era Luiz Pacheco? Um homem que o Portugal de hoje não merece. E, para dizer a verdade, o do tempo dele também não. O homem que diria a esta tenebrosa turba que nos governa e à mancha de mediocridade que a rodeia "Vão para a puta que os pariu!".
Puta que os Pariu! - a Biografia de Luiz Pacheco, de João Pedro George, editado pela Tinta da China.
Puta que os Pariu! - a Biografia de Luiz Pacheco, de João Pedro George, editado pela Tinta da China.